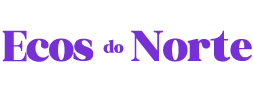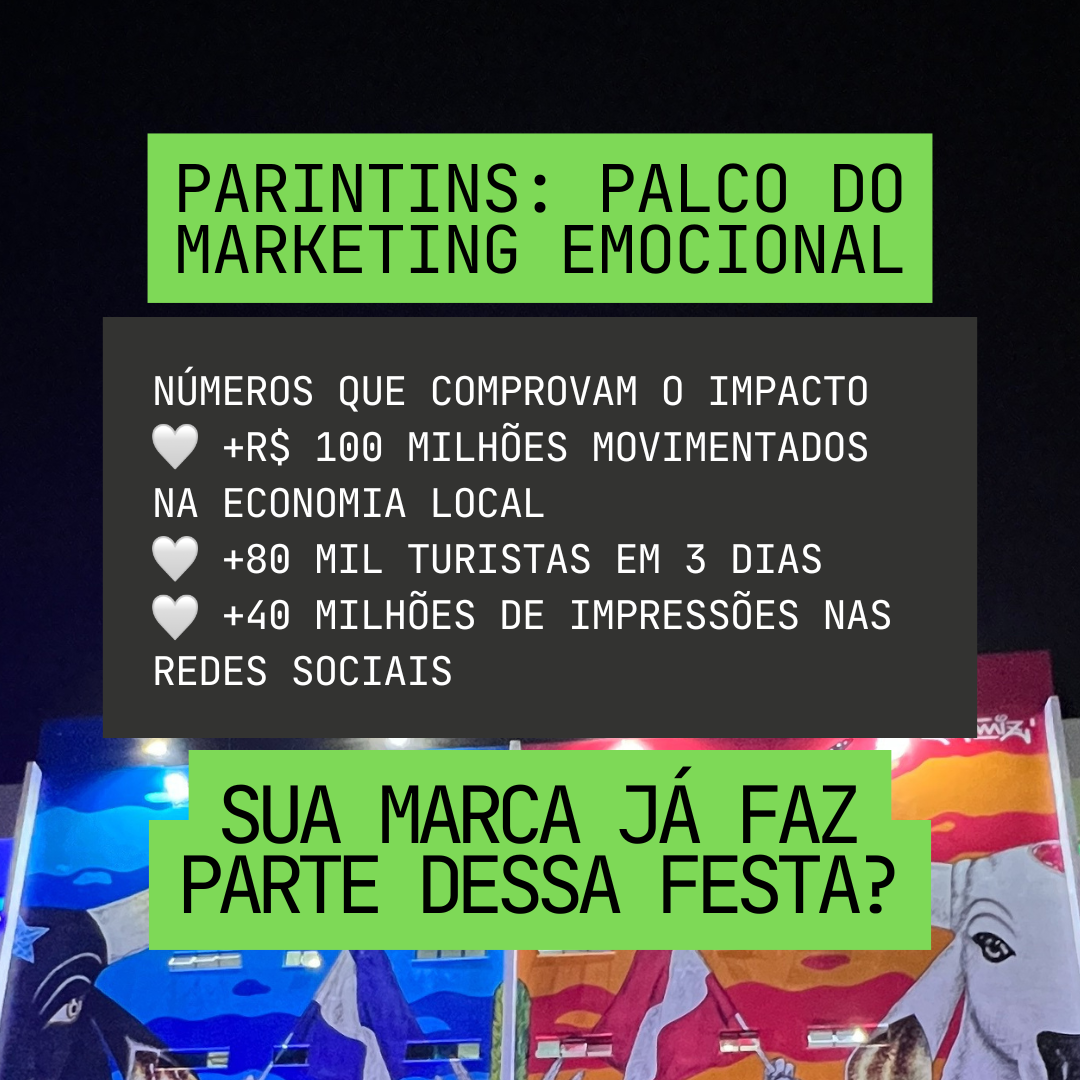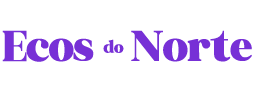[ad_1]
Por Cleber Lourenço
O episódio que dá origem a este texto não é um detalhe periférico, nem uma anedota trágica a ser esquecida na próxima rolagem de tela. Durante uma marcha política organizada por apoiadores do deputado Nikolas Ferreira, em plena rodovia federal, uma mulher foi atingida por um raio. O ato foi mantido apesar de alertas meteorológicos oficiais que indicavam risco elevado de chuvas intensas e descargas elétricas. Pessoas ficaram feridas. O perigo era conhecido. A decisão de seguir adiante também.
Não se trata, portanto, de um acaso imprevisível ou de uma fatalidade inevitável. Havia informação, havia aviso e havia tempo para recuar. Ainda assim, optou-se por manter o ato, como se a demonstração política fosse mais relevante do que a integridade física de quem participava. Quando o raio caiu, não caiu apenas sobre corpos. Caiu sobre uma escolha deliberada.
Dias depois, a mulher atingida afirmou, em entrevista, que se tivesse morrido “não teria problema”, porque a causa seria “justa”. A frase já seria perturbadora por si só, ao naturalizar a própria morte como efeito colateral aceitável da militância política. Ela revela o quanto a lógica do sacrifício já havia sido internalizada. Mas o episódio ganhou contornos ainda mais graves quando o próprio Nikolas decidiu comentar publicamente a declaração.
Em vez de prudência, veio a exaltação. Em vez de responsabilidade, veio a retórica inflamada. O deputado escreveu que “a vida não vale nada quando é vivida sem sentido” e atacou o que chamou de “covardia travestida de prudência”. Não houve reconhecimento de erro, não houve reflexão sobre segurança, não houve sequer um gesto mínimo de cuidado com quem colocou o corpo em risco. Houve celebração. Houve aplauso simbólico à ideia de que morrer pode ser aceitável — desde que seja por um motivo considerado nobre.
É aqui que o caso deixa de ser apenas um episódio de imprudência em manifestação política e passa a revelar algo estruturalmente mais perigoso. Há frases que não pedem interpretação. Pedem alarme. Quando um parlamentar afirma que a vida humana só tem valor se estiver subordinada a um propósito superior — propósito esse que ele próprio se arroga o direito de definir —, o que está em jogo não é opinião. É doutrinação política baseada na desvalorização da vida.
A partir desse ponto, a política deixa de ser debate público e passa a flertar com a lógica do culto. A segurança vira medo. A prudência vira covardia. A legalidade vira obstáculo. O cuidado vira fraqueza moral. O corpo deixa de ser sujeito de direitos e passa a ser instrumento simbólico. O risco não é mais um problema a ser evitado, mas uma prova de fé a ser exibida. O ferimento vira certificado de pureza. A irresponsabilidade, virtude.
Esse tipo de discurso tem uma função clara: blindar a liderança de qualquer responsabilidade concreta. Se o risco é virtude, não há erro. Se a morte é nobre, não há culpa. Se o sofrimento é prova de compromisso, toda crítica vira ataque covarde. Trata-se de uma engenharia retórica que transforma vítimas em símbolos e líderes em intocáveis.
Esse método não é novo. A história está repleta de líderes que descobriram que a morte mobiliza mais do que a vida e que o sacrifício emociona mais do que a cautela. O roteiro se repete com impressionante regularidade: desumanizar quem questiona, ridicularizar quem pede responsabilidade, tratar seguidores como massa útil desde que disposta a se expor. Sempre há um discurso sobre despertar, sobre sentido, sobre romper com a vida comum e abandonar a “mediocridade” da existência protegida.
Jim Jones foi um pastor norte-americano que, nos anos 1970, construiu uma seita baseada na obediência absoluta e na ideia de sacrifício em nome de uma causa. Em 1978, na Guiana, mais de 900 pessoas morreram em um suicídio coletivo após serem convencidas de que a morte era preferível à vida fora daquele projeto.
A comparação incomoda porque não é um insulto gratuito. É a descrição de um padrão discursivo. Não se está dizendo que há aqui uma seita literal (por enquanto) ou um culto religioso formal. Está-se apontando para um método político: relativizar a vida, glorificar o risco e converter o sofrimento alheio em ferramenta pedagógica. Quando alguém ensina que a vida só vale se servir a uma causa maior, o passo seguinte é decidir quais vidas podem ser desperdiçadas. E, invariavelmente, nunca é a do líder.
Não se trata de fé. Não se trata da mulher ferida. Não se trata de convicção pessoal. Trata-se de um agente público que, diante de um episódio concreto de risco real, escolhe usar a dor como narrativa e a possibilidade de morte como argumento político. Trata-se de alguém que olha para pessoas machucadas e responde com épica, em vez de responsabilidade.
Isso não é coragem. É covardia travestida de heroísmo. É fácil glorificar o risco quando se está protegido pelo mandato, pelo microfone, pela distância física do perigo. Difícil é assumir responsabilidade quando o raio cai, quando o corpo cai, quando a retórica encontra a realidade nua.
O Brasil já assistiu vezes demais a esse filme para fingir ingenuidade. Toda vez que alguém ensina que a vida vale pouco e que a causa vale tudo, o final é conhecido. Não é grandioso, não é redentor, não é heroico. É sempre feito de corpos que não estavam no comando, de seguidores convencidos de que morrer era aceitável.
Por isso, o título deste texto não é uma provocação gratuita. É um alerta. Sempre que um líder político passa a tratar a morte como virtude, o risco como prova de fé e a vida como detalhe, ele deixa de agir como representante público e começa a operar como aquilo que a história já conhece bem. É assim que nascem os Jim Jones — inclusive os de Minas.
[ad_2]
ICL Notícias