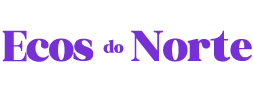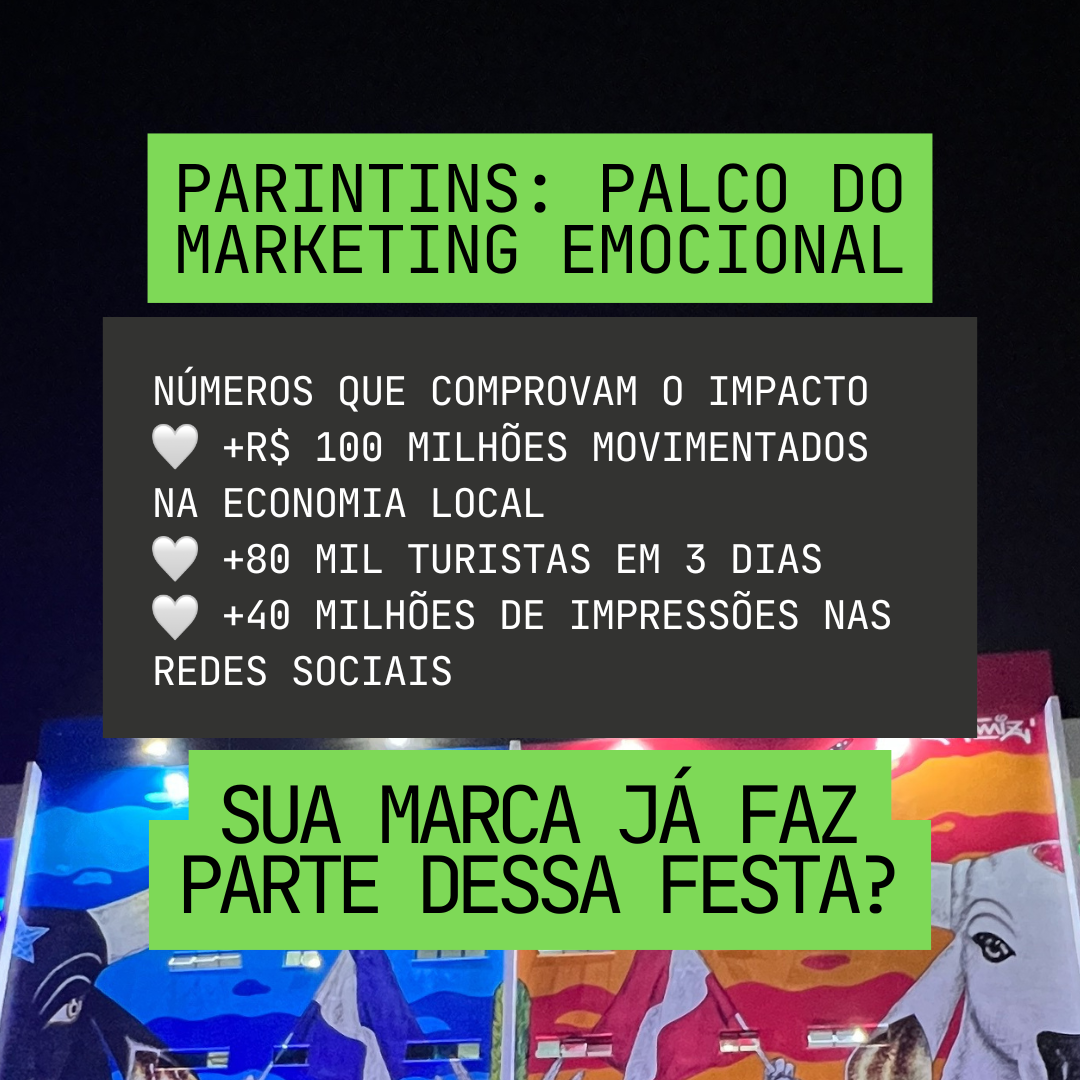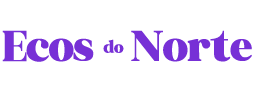[ad_1]
ouça este conteúdo
00:00 / 00:00
1x
Há datas – pelo menos desde o século XIX – que o calendário insiste em repetir, como se o tempo fosse um dramaturgo obsessivo que não consegue resistir à tentação de encenar a mesma peça em épocas diferentes, apenas trocando o figurino e ajustando o cenário. O 24 de agosto é uma dessas datas teimosas, que parece ter uma predileção especial por colecionar mortes emblemáticas na história brasileira. Em 1882, morria Luiz Gama, o advogado negro que libertou mais de quinhentos escravizados e que teve a ousadia de morrer antes de ver a abolição que tanto defendeu. Setenta e dois anos depois, em 1954, Getúlio Vargas escolhia a mesma data para sair da vida e entrar na história, como ele próprio escreveu em sua carta-testamento, deixando um tiro no peito e uma nação em comoção. Vargas, que nascera no mesmo ano da morte de Gama, 1882.
Duas mortes, duas épocas, duas formas distintas de partir – uma natural, outra “voluntária” – mas ambas carregadas de um simbolismo que parece ter sido cuidadosamente orquestrado pelo “destino histórico” para nos mostrar algo sobre as contradições fundamentais da formação brasileira. Porque se há algo que une essas duas figuras aparentemente tão díspares, é justamente o fato de que ambas encarnaram, cada uma à sua maneira, os paradoxos de um país que sempre oscilou entre a promessa de liberdade e a realidade do autoritarismo, entre o discurso da igualdade e a prática da exclusão.
Luiz Gama, esse personagem extraordinário que conseguiu a proeza de nascer livre, ser escravizado pelo próprio pai e depois conquistar judicialmente sua própria liberdade, representa talvez a síntese mais perfeita das contradições brasileiras do século XIX. Autodidata que se tornou advogado numa época em que isso era quase impossível para um homem negro, Gama desenvolveu o que seus contemporâneos chamavam de “estilo Gama” de atuação judicial – uma mistura de conhecimento jurídico, retórica inflamada e ousadia política que fazia tremer os senhores de escravos paulistas.
Mas aqui reside o primeiro paradoxo: Gama lutava pela liberdade numa sociedade estruturalmente escravista, que se orgulhava de sua “democracia racial” – essa ficção conveniente que permitia aos brasileiros se sentirem superiores aos americanos do sul, com suas leis segregacionistas explícitas, enquanto mantinham um sistema escravocrata que era, na prática, ainda mais perverso por sua hipocrisia. O Brasil do século XIX havia desenvolvido uma forma peculiar de autoritarismo, que não precisava de leis raciais porque tinha algo muito mais eficiente: a naturalização da desigualdade, a transformação da opressão em costume, da injustiça em tradição.
Gama compreendeu isso com uma lucidez que faria inveja aos sociólogos contemporâneos. Ele sabia que não bastava libertar escravos individualmente, era preciso atacar o próprio sistema que tornava a escravidão possível. Por isso, desenvolveu uma estratégia jurídica que era, ao mesmo tempo, revolucionária e profundamente conservadora: usava as próprias leis do Império para demonstrar sua ilegalidade, empregava a retórica liberal para denunciar o liberalismo à brasileira, utilizava o discurso da “civilização” para expor a barbárie civilizada.
Era um homem que havia experimentado na própria pele a violência do sistema e que, por isso mesmo, conhecia suas fraquezas melhor do que ninguém. Quando defendia um escravizado em tribunal, não estava apenas exercendo a advocacia, estava fazendo política, fazendo história, fazendo revolução – tudo isso disfarçado de legalidade, embrulhado na linguagem respeitável do direito. Era subversão de gravata, revolução de cartola, insurreição de código civil e criminal.
Mas o destino, esse dramaturgo cruel que parece ter uma predileção especial pelas ironias históricas, não permitiu que Gama visse o fim da escravidão. Morreu em 1882, seis anos antes da Lei Áurea, vítima de diabetes – uma doença que, simbolicamente, parece ter sido escolhida a dedo para um homem que passou a vida lutando contra a amargura de um sistema doce apenas para seus beneficiários. Seu funeral, dizem os cronistas da época, atraiu milhares de pessoas às ruas de São Paulo, numa demonstração de comoção popular que antecipava, de certa forma, o que aconteceria décadas depois com outro personagem central da história brasileira.
Porque se Luís Gama morreu lutando pela liberdade que não chegou a ver, Getúlio Vargas morreu defendendo um povo que ele mesmo havia, paradoxalmente, submetido ao autoritarismo. Aqui temos o segundo grande paradoxo brasileiro: o ditador que se apresenta como “pai dos pobres”, o autocrata que se veste de democrata, o homem que concentra todo o poder em suas mãos para, supostamente, distribuí-lo ao povo. Será?
Vargas, esse personagem que parece ter saído diretamente das páginas de um romance de Érico Veríssimo – com sua capacidade de transformar contradições em virtudes e paradoxos em política – conseguiu a proeza de governar o Brasil por quinze anos consecutivos (1930-1945) e depois voltar ao poder pelo voto popular (1951-1954), numa demonstração de que o autoritarismo brasileiro tem uma peculiaridade que escapa às categorias tradicionais da ciência política: ele pode ser, simultaneamente, imposto e desejado, rejeitado e aclamado, combatido e saudoso.
O “Estado Novo” de Vargas foi uma ditadura que se apresentava como revolução, um regime autoritário que se legitimava pela promessa de justiça social, uma autocracia que se justificava pela necessidade de proteger o povo de si mesmo. Era o paternalismo levado às suas últimas consequências: o pai severo que bate nos filhos para o próprio bem deles, o protetor que oprime para proteger, o libertador que escraviza para libertar.
Mas aqui reside a genialidade controversa do sistema varguista: ele compreendeu que o autoritarismo brasileiro não poderia ser uma simples importação dos modelos europeus. Não bastava copiar Mussolini ou Hitler, era preciso criar uma forma tipicamente brasileira de ditadura, que levasse em conta nossas tradições patriarcais, nossa cultura do favor, nossa tendência histórica de transformar direitos em benefícios e cidadãos em protegidos.
Vargas inventou, assim, o que poderíamos chamar de “autoritarismo cordial” – uma ditadura de sorriso largo, que reprimia cantando samba, que censurava fazendo festa, que torturava distribuindo benefícios. Era a violência do Estado disfarçada de carinho paternal, a opressão política vestida de proteção social. O trabalhador brasileiro conquistava e ganhava direitos, mas perdia a liberdade de lutar por eles, recebia benefícios, mas abria mão de certa autonomia para conquistá-los.
E foi justamente essa contradição fundamental que levou Vargas ao impasse final de 1954. Pressionado por uma oposição que o acusava de corrupção e autoritarismo, cercado por militares que exigiam sua renúncia, enfrentando uma crise política que parecia não ter solução, o velho governante se viu diante de um dilema que resumia perfeitamente os paradoxos de sua trajetória: como sair do poder mantendo a imagem de defensor do povo? Como preservar o mito sem destruir o homem?
A resposta veio na forma de um tiro no peito, na madrugada de 24 de agosto de 1954, no mesmo Palácio do Catete onde havia governado o país com mão de ferro durante o Estado Novo. Mas Vargas, esse mestre da política brasileira, não se contentou em morrer, ele transformou sua morte em ato político, sua derrota em vitória póstuma, seu fim em recomeço.
A carta-testamento que deixou é uma obra-prima da retórica política brasileira, um documento que consegue a proeza de transformar o suicida em mártir, o antigo ditador em vítima dos agora verdadeiros tiranos, um dos homens mais poderosos da História em perseguido político. “Deixo à sanha de meus inimigos o legado de minha morte”, escreveu Vargas, numa frase que resume toda a genialidade de sua estratégia final: fazer da morte uma arma, do fim uma continuação, do silêncio um grito.
E o povo brasileiro, esse personagem coletivo que sempre oscila entre a submissão e a revolta, entre a passividade e a paixão, respondeu exatamente como Vargas havia calculado. No dia seguinte ao suicídio, milhares de pessoas saíram às ruas para chorar a morte do “pai dos pobres”. Carlos Lacerda, o jornalista que havia liderado a campanha contra Vargas, teve que fugir do país com medo da fúria popular. Jornais que criticavam o governo foram atacados por multidões enfurecidas.
Era a comoção popular transformada em arma política, a emoção coletiva convertida em instrumento de poder. Vargas havia conseguido, na morte, o que talvez não tivesse alcançado na vida: transformar sua derrota política em vitória simbólica, sua queda em ascensão póstuma. Era o autoritarismo brasileiro revelando sua face mais sofisticada: a capacidade de se reinventar através da própria destruição, de se perpetuar através da própria negação.
Mas o que une essas duas mortes, separadas por setenta e dois anos de história brasileira, não é apenas a coincidência do calendário. É algo muito mais profundo e perturbador: ambas revelam a capacidade peculiar que tem o Brasil de transformar seus heróis em mártires, suas derrotas em vitórias simbólicas, suas contradições em virtudes nacionais.
Luiz Gama morreu antes de ver a abolição, mas sua morte transformou-se em símbolo da luta pela liberdade. Getúlio Vargas morreu para escapar da derrota política, mas sua morte transformou-se em símbolo da defesa do povo. Em ambos os casos, a morte funcionou como uma espécie de purificação simbólica, que permitiu ao país preservar o mito sem enfrentar as contradições do sistema.
Porque essa é, talvez, a característica mais marcante do autoritarismo brasileiro: sua capacidade de se disfarçar de democracia, de se apresentar como proteção, de se justificar como necessidade. Luís Gama lutava contra um sistema escravocrata que se apresentava como civilizado. Vargas – o do Estado Novo – governava um regime ditatorial que se apresentava como popular. Em ambos os casos, o que estava em jogo não era apenas o poder, mas a capacidade de definir os termos em que esse poder seria exercido e legitimado.
E a comoção popular que acompanhou ambas as mortes revela algo ainda mais inquietante sobre a formação brasileira: nossa tendência histórica de preferir os heróis mortos aos vivos, os mártires aos lutadores, os símbolos às pessoas reais. É mais fácil chorar Luiz Gama do que enfrentar o racismo estrutural que ele combateu. É mais confortável lamentar Vargas do que questionar as contradições que ele encarnou.
Talvez seja por isso que o 24 de agosto insiste em se perpetuar na história brasileira como uma data de mortes emblemáticas. Como se o calendário quisesse nos lembrar, ano após ano, de que há algo de profundamente melancólico na forma como este país lida com seus grandes personagens: preferimos enterrá-los a compreendê-los, mitificá-los a analisá-los, chorá-los a continuá-los.
Luiz Gama morreu sem ver a abolição que tanto defendeu, mas talvez tenha sido melhor assim. Porque se tivesse vivido para ver a Lei Áurea de 1888, teria descoberto que a liberdade formal dos escravos não significou sua inclusão real na sociedade brasileira. Teria visto que o fim da escravidão não trouxe o fim do racismo, que a abolição legal não produziu a igualdade social, que a liberdade jurídica não garantiu a dignidade humana.
Vargas, por sua vez, morreu para não ver a derrota política que se anunciava, mas talvez também tenha sido melhor assim. Porque – diriam alguns paulistas – se tivesse vivido para enfrentar o desfecho do golpe que se desenhava, teria descoberto que o “pai dos pobres” não era tão amado quanto imaginava, que o “protetor do povo” não era tão necessário quanto supunha, que o antes ditador benevolente não era tão benevolente quanto proclamava.
Em todo caso, o que essas duas mortes nos ensinam sobre o Brasil é algo que talvez não queiramos aprender: que somos um país que tem uma relação muito peculiar com a autoridade e com a liberdade, com o poder e com a resistência. Criamos heróis para depois destruí-los, construímos mitos para depois desconstruí-los, inventamos salvadores para depois abandoná-los. Mas não seria assim em qualquer História e em qualquer país?
Luiz Gama e Getúlio Vargas representam, cada um à sua maneira, as duas faces de uma mesma moeda: a face da resistência e a face do poder, a face da liberdade e a face da autoridade. Mas ambas as faces estão marcadas pela mesma contradição fundamental: a dificuldade brasileira de resolver a tensão entre igualdade e hierarquia, entre democracia e autoritarismo, entre promessa e realidade.
Talvez seja por isso que continuamos, mais de um século depois da morte de Gama e setenta anos depois da morte de Vargas, discutindo os mesmos problemas, enfrentando as mesmas contradições. Como se fôssemos condenados a um eterno retorno do mesmo, a uma encenação permanente dos mesmos dramas.
Mas qual então seria a resposta? Como diria Vargas em sua carta-testamento, a resposta só o tempo – e o povo – poderão dar.