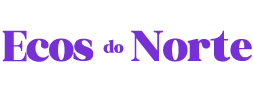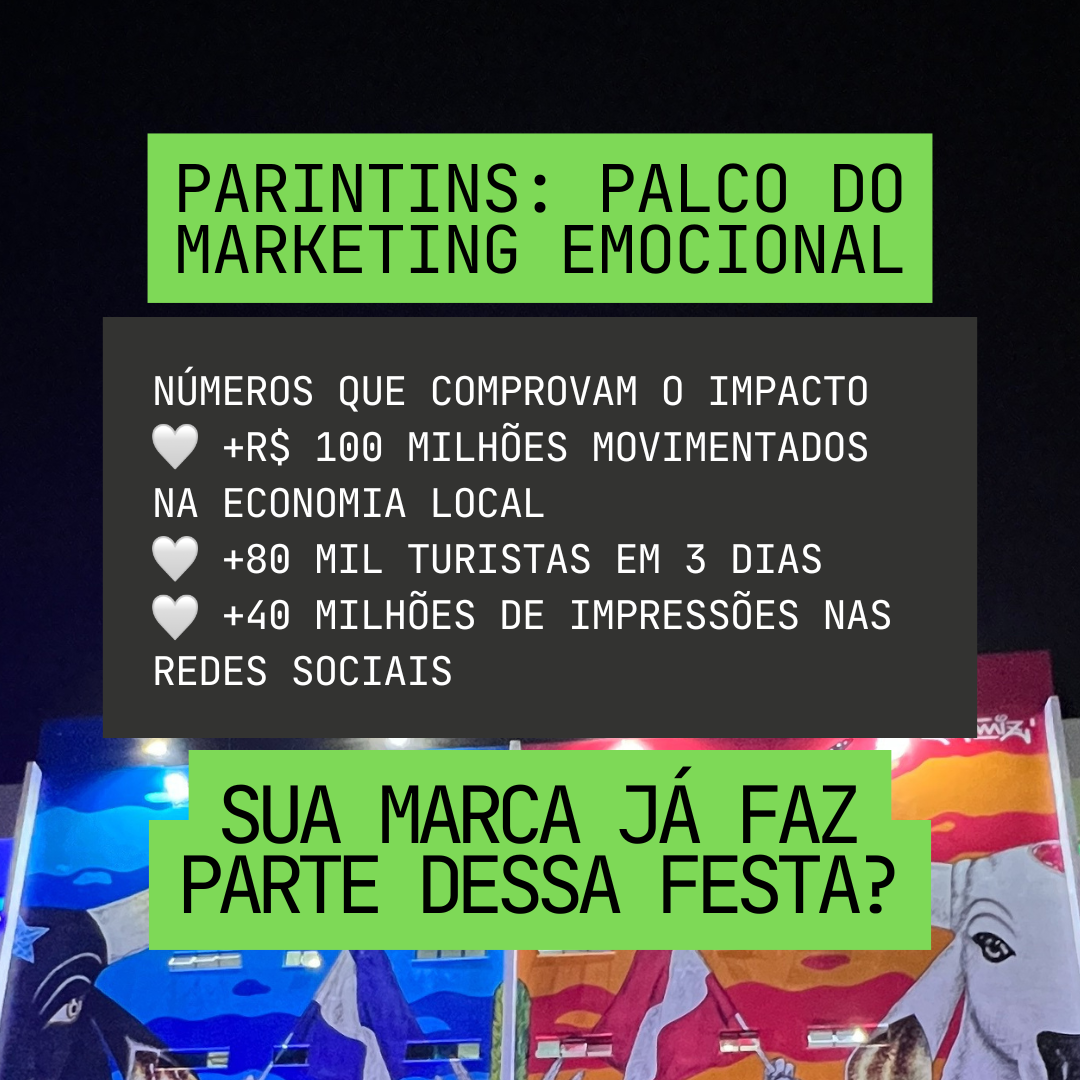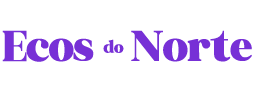[ad_1]
ouça este conteúdo
00:00 / 00:00
1x
Por Catarina Duarte — Ponte Jornalismo
A missionária Dorothy Stang, morta aos 73 anos, carregava uma Bíblia quando foi abordada por seus executores em Anapu, no Pará. A eles, leu trechos do livro sagrado dos cristãos: “Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.” Em seguida, foi atingida por disparos na cabeça. O relato foi feito à Folha de S. Paulo por uma testemunha ocular da execução, em 2005.
No mesmo estado, cinco anos antes, o líder sindical José Dutra da Costa, o Dezinho, havia sido assassinado. Ele recebia ameaças desde que assumiu a presidência do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Rondon do Pará, de onde denunciava crimes de latifundiários. Segundo o Ministério Público do Pará (MP-PA), foi morto a mando de um fazendeiro.
A companheira de Dezinho, Maria Joelma Dias da Costa, assumiu a luta sindical após o assassinato e foi uma das primeiras defensoras incluídas no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos (PPDDH), criado em 2004. Desde então, vive sob escolta. “A Maria Joel acabou sendo a primeira pessoa a ser incluída no programa de proteção. Mas seriam as duas. A Dorothy sequer conseguiu, porque foi assassinada antes”, lembra Sandra Carvalho, coordenadora do programa de Proteção de Defensoras/es de Direitos Humanos e da Democracia na associação de promoção dos direitos humanos Justiça Global.
Casos como os de Dorothy e Dezinho impulsionaram a criação do Comitê Brasileiro de Defensoras e Defensores de Direitos Humanos (CBDDH), rede que hoje reúne 45 organizações de todo o país. O Comitê nasceu para pressionar pela implementação do PPDDH e, ao longo de duas décadas, seguiu monitorando, denunciando retrocessos e propondo melhorias.
No dossiê “Vidas em Luta: 20 anos na Defesa do Direito de Lutar”, lançado em agosto, o Comitê aponta falhas na política de proteção a defensoras e defensores no Brasil.

Túmulo da ativista Dorothy Stang, morta em 2005, em Anapu, no Pará (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)
A falta de um marco legal federal
O Programa de Proteção começou em três estados: Pará, Pernambuco e Espírito Santo. Hoje funciona em onze, com presença mais forte no Norte e no Nordeste, como Amazonas e Maranhão, e em alguns polos do Sudeste e Sul, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em grande parte do país, porém, defensoras e defensores seguem sem acesso a programas locais de proteção.
Apesar de ter sido um marco, o programa nunca se consolidou como política de Estado. A principal fragilidade é a ausência de um marco legal federal, que o mantém dependente de decretos presidenciais. Uma lei específica garantiria maior estabilidade institucional, orçamento próprio e a obrigação de estados e União em assegurar medidas de proteção. Sem essa base legal, o programa segue frágil, funcionando de forma precária e sujeita à descontinuidade.
“Ao longo desses quase 20 anos, muitos foram os decretos — em grande parte vieram para fragilizar a política. O marco legal daria muito mais segurança e dotação orçamentária. Hoje, sem ele, a política fica vulnerável a retrocessos”, aponta Sandra Carvalho.
Outra dificuldade é a falta de recursos. Os convênios entre União e estados são temporários e burocráticos, o que compromete a continuidade do atendimento. Há relatos de defensoras e defensores já incluídos no programa que precisaram recorrer a fundos emergenciais da sociedade civil para medidas básicas, como deslocamento rápido e câmeras de segurança.
Além disso, a política prioriza casos individuais, deixando de fora a proteção coletiva. Povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, alvos de violência territorial, raramente são contemplados. “O Estado brasileiro ainda tem dificuldade em adotar medidas que contemplem a proteção coletiva. E enquanto não avançarmos na demarcação de terras, na titulação de territórios e na reforma agrária, as ameaças continuarão”, alerta Sandra.
Proteção precária: 55 assassinados em dois anos de governo Lula
A Ponte mostrou em maio que lideranças Pataxó no sul da Bahia enfrentam ameaças de morte, criminalização e campanhas de difamação. Alguns caciques chegaram a ser incluídos em um programa de proteção, mas seguiram sob risco.
Segundo estudo da Justiça Global e da ONG Terra de Direitos, pelo menos 55 defensoras e defensores foram assassinados nos dois primeiros anos do atual governo. Além da violência física, a criminalização e a difamação em redes sociais se tornaram novas ferramentas de intimidação.
“Dorothy e Maria Joel já sofriam deslegitimação, mas agora isso ganhou outra dimensão. Hoje, campanhas de difamação e manipulação de imagens são usadas contra defensoras e defensores, muitas vezes com apoio do próprio Estado”, afirma Sandra.
Alane Luzia da Silva, advogada popular da Terra de Direitos, cita ainda o povo Avá-Guarani no Paraná, visitado em missão do Comitê e do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Segundo ela, as comunidades enfrentam hostilidade cotidiana, discriminação racial e falta de moradia, alimentação e água. Crianças indígenas estão expostas a riscos de violência extrema, o que mostra como a ausência de demarcação de terras e a negligência do Estado mantêm esses povos em vulnerabilidade.
Em julho de 2025, um jovem Avá-Guarani de 21 anos, filho de um cacique do Tekoha Yvyju Awary, foi assassinado e decapitado em Guaíra (PR). Seu corpo foi deixado em um milharal e a cabeça ao lado, acompanhada de uma carta com ameaças às comunidades que lutam pela retomada de territórios. O caso, noticiado pelo Brasil de Fato, reforçou o clima de terror contra povos indígenas no Paraná.
Plano Nacional é saída para política frágil
Em junho de 2025, o governo publicou a Portaria nº 892, que regulamenta os procedimentos do PPDDH. A medida foi apresentada como uma forma de dar mais clareza às etapas de ingresso e permanência no programa, mas não resolve os problemas de orçamento, burocracia e ausência de lei federal.
O maior esforço recente da sociedade civil foi a elaboração do Plano Nacional de Proteção a Defensoras e Defensores de Direitos Humanos, entregue ao governo em dezembro de 2024, após condenações do Brasil na Justiça Federal e na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O plano propõe ampliar a proteção coletiva e garantir financiamento estável.
Para Sandra Carvalho, a publicação do decreto que institui o plano é o passo decisivo. “A gente espera que o presidente publique o decreto que institui o Plano Nacional de Proteção. É um compromisso assumido e estamos aguardando”, afirma.