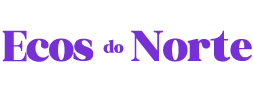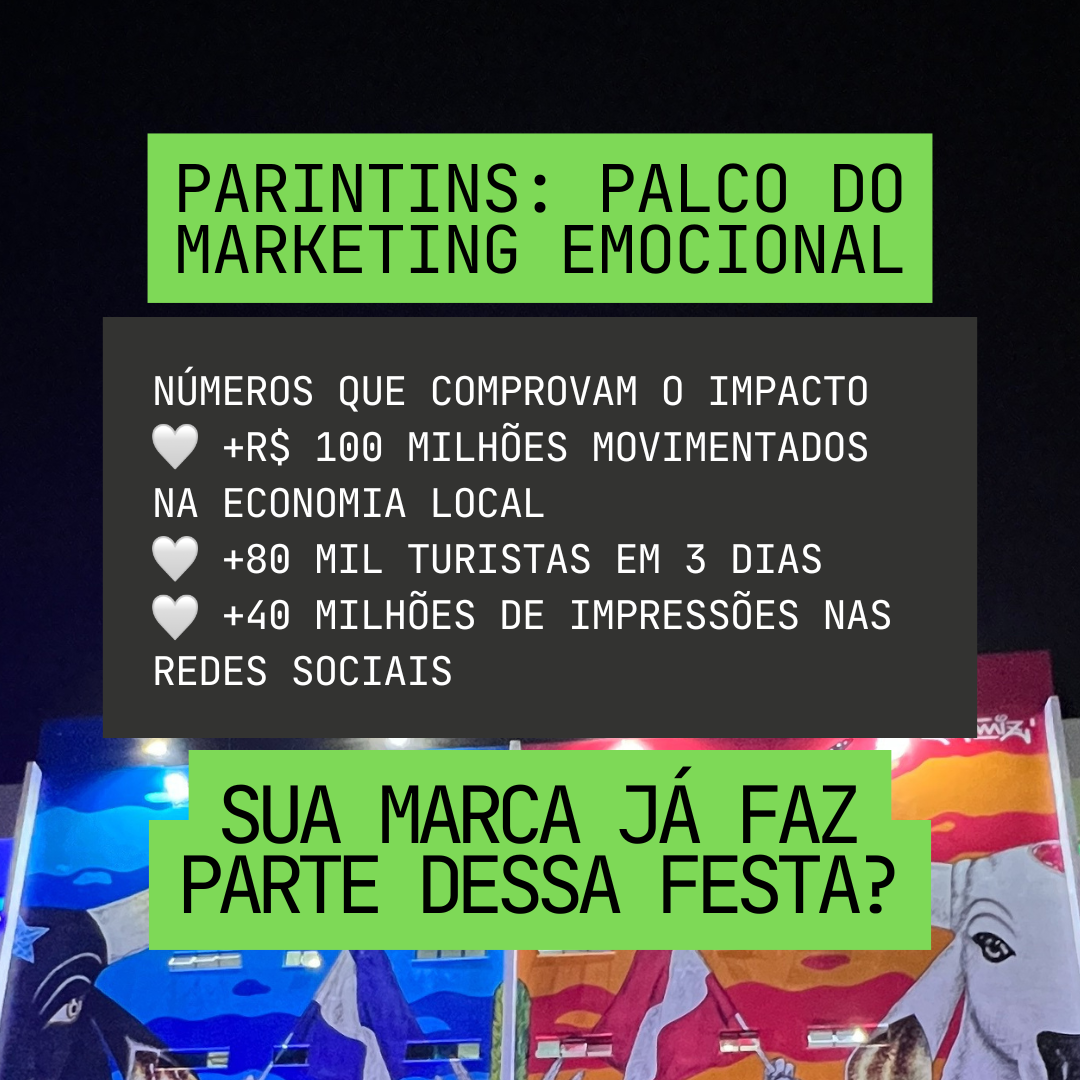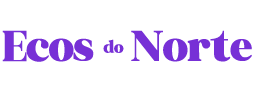Em um momento considerado histórico para a educação indígena no Brasil, três integrantes do povo Yanomami defenderam, pela primeira vez, dissertações de mestrado desenvolvidas a partir de seus próprios saberes e experiências. O feito ocorreu no Programa de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA), da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em Manaus, com apoio institucional e envolvimento direto de lideranças indígenas.
A ocasião contou com a presença de Davi Kopenawa, xamã, escritor e um dos principais nomes da luta pela preservação da floresta amazônica e dos direitos dos povos originários. Durante a abertura do evento “Davi Kopenawa: palavras de um xamã Yanomami”, realizado no dia 22 de abril na UFAM com a presença de mais de 800 pessoas, Kopenawa ressaltou a importância do momento:
“Eles abriram espaço para outros Yanomami também entrarem. Estou muito contente com meus parentes, meus primos que tiveram coragem”, afirmou o líder, que participou pela primeira vez como avaliador em uma banca de mestrado.
Saberes ancestrais em forma de ciência
Os novos mestres indígenas são Odorico Xamatari Hayata Yanomami, Edinho Yanomami Yarimina Xamatari e Modesto Yanomami Xamatari Amaroko, todos oriundos do município de Santa Isabel do Rio Negro, no Alto Rio Negro (AM). Eles atuam como professores em Xaponos — casas coletivas Yanomami — situadas às margens do Rio Marauiá.
Durante dois anos, os três dedicaram-se ao desenvolvimento de pesquisas que conectam saber tradicional e academia, abordando temas como música ritualística, cantorias sagradas, o papel dos xamãs e a preservação da língua Yanomami no ensino infantil.
A dissertação de Odorico, elaborada por meio de uma autoetnografia, é marcada por forte conteúdo identitário. “Por que quero ser Mestre? Porque eu, no meu corpo, no meu sentido, no meu sonho, quero ser tal… Como os napë [homem branco fala] fala que o Yanomami não sabe escrever, não sabe falar bem português. Eu entendo a crítica do napë. Por causa disso que sou Mestre”, declarou o pesquisador.
Já Modesto ressaltou o caráter coletivo de sua formação: “É importante para mim, porque vou ser preparado para a comunidade. Não é para mim, mas sim para ajudar [outros indígenas] da comunidade.”
Universidade pública como espaço de resistência
A mesa de abertura do evento na UFAM também destacou o papel essencial das universidades públicas na promoção da diversidade de pensamentos e na valorização dos saberes indígenas. A diretora do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (IFCHS), Iraildes Caldas Torres, reforçou essa ideia:
“A UFAM entra nesse cenário pioneiro de inovar as nossas ações ‘indigenistas’, porque o Mestrado e o Doutorado não deixam de ser uma política pública. No Brasil, fazer uma defesa genuinamente no contexto indígena é também um desafio. É uma forma de dizer que nós, como povos indígenas da Amazônia, temos o direito de pensarmos diferentes.”
O coordenador do programa de pós-graduação, Caio Souto, relatou os desafios enfrentados até a conclusão dos trabalhos, destacando que parte das atividades foi realizada com apoio de instituições parceiras:
“Tivemos que pegar espaços emprestados, de alianças para que acontecesse. Houve percalços, mas deu tudo certo. Com o anúncio do novo campus (em São Gabriel da Cachoeira), esperamos que tenha cursos oferecidos de forma regular, o que vai fomentar o desenvolvimento da região.”
Preservação cultural como resistência
Durante sua fala, Davi Kopenawa abordou não apenas a importância da educação formal, mas a necessidade de conciliar esse aprendizado com a manutenção da identidade cultural dos povos indígenas. Ele alertou para a urgência de ensinar a língua Yanomami às novas gerações, frente às ameaças externas que incluem o avanço do garimpo ilegal e o desmatamento.
“Temos que aprender mais a falar português, mas não podemos esquecer nossa própria língua Yanomami. Nossa própria língua é nossa arma. […] Agora é nossa vez de mostrar a nossa força, sabedoria e inteligência. Nós somos lutadores contra invasores”, destacou.
O xamã também fez um apelo direto por políticas públicas eficazes para a construção de escolas em territórios indígenas:
“Só falta nós estudarmos na universidade. […] Já esperamos muito a escola [na região]. As autoridades só falam sobre educação e saúde, mas eu não quero ficar escutando promessas. Hoje é o nosso futuro. […] Tem dinheiro para construir as escolas para nossos filhos aprenderem a escrever, matemática, trabalhar em Saúde, a ser professor e ensinar os próprios parentes. Esta é a minha luta e vou continuar.”
Um futuro construído com as próprias palavras
O marco alcançado por Odorico, Edinho e Modesto é, acima de tudo, uma conquista coletiva. É um passo firme em direção a uma ciência que reconhece e respeita a pluralidade de saberes. É também um sinal de resistência — como diria o próprio Kopenawa — diante da ameaça constante aos modos de vida indígenas.
Ao assumirem o protagonismo em seus processos de formação, os novos mestres Yanomami ressignificam o papel da academia e reafirmam que a educação pode, sim, ser construída a partir da floresta, com raízes ancestrais e olhos voltados ao futuro.