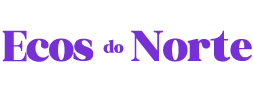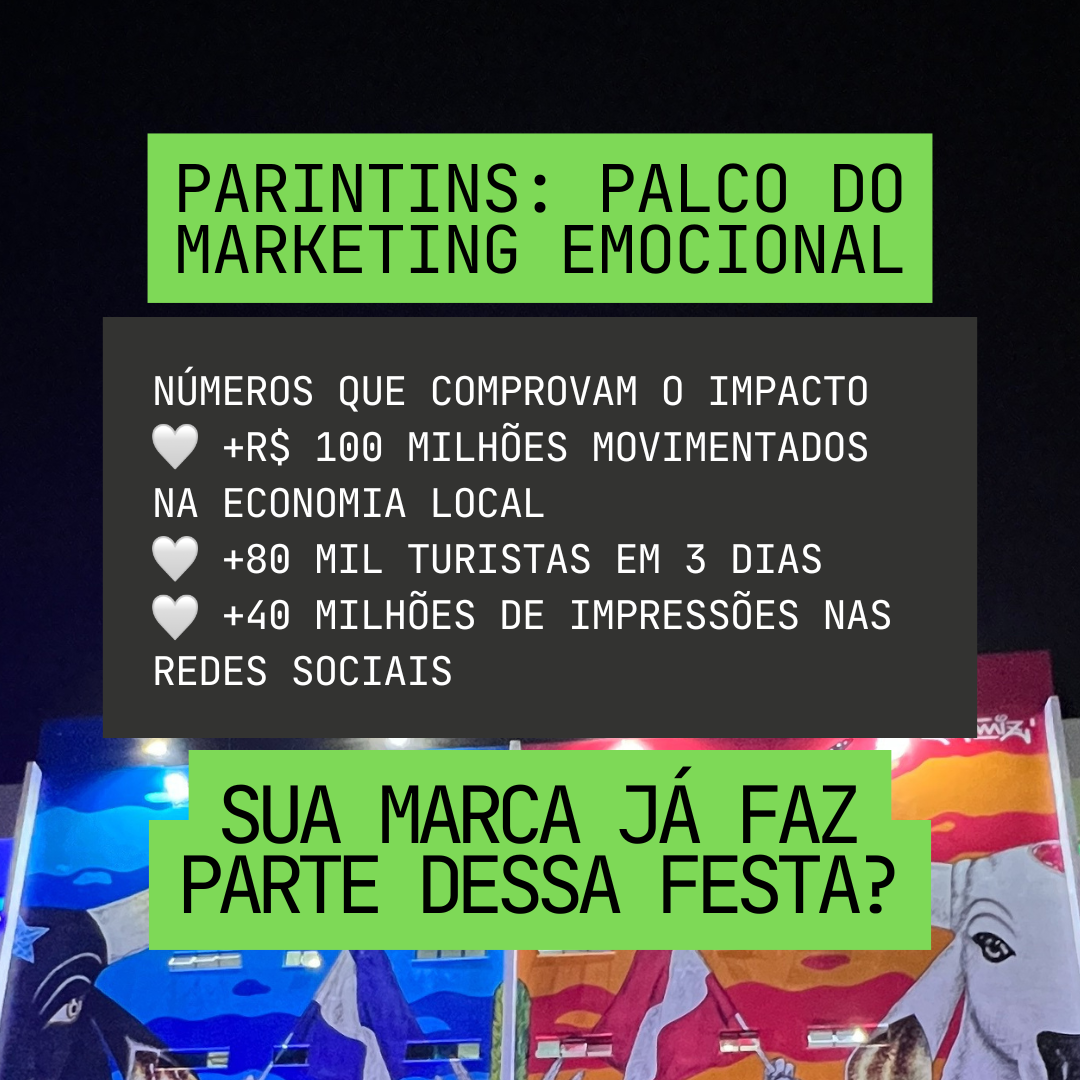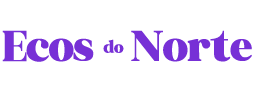[ad_1]
ouça este conteúdo
00:00 / 00:00
1x
Por Frederico Füllgraf*
Agosto.
Vento encapelado, gélido, varre as calçadas, vareja as árvores, ofende o rosto das gentes. Corpo contraído, passos apressados, olhar desviado, rumo ao único Café da cidade, protegido por portas fechadas e por isso aconchegante.
Devaneio sobre a sublimação coletiva de nossa latitude quase austral, neste Sul brasileiro, enquanto perscruto o ambiente enfumaçado em busca de uma cadeira vaga. Tomo assento a uma mesa nos fundos do Café, munido já do primeiro caderno do jornal preso em cabide. Chamada de primeira página: morreu Charles (Chuck) W. Sweeney, comandante da esquadrilha norte-americana, que despejou uma das duas bombas atômicas sobre o Japão, em agosto de 1945.
A lembrança me assalta e eu embarco no túnel do tempo. Minha primeira recordação inapagável é o de agosto de 1986: verão em Nagasaki.
É hora do almoço de um sábado tropical, esplendoroso, quando eu e o professor Ichiro Moritaki, meu anfitrião do movimento pacifista Gensuikin, colocamos os pés no restaurante com deslumbrante vista panorâmica sobre o imenso Mar da China.
Depois de Tóquio, muitas centenas de quilômetros rodados a bordo do trem-bala, minha missão de roteirista-dublê-de-palestrante – sobre o acidente do Césio em Goiânia e o lixo radioativo que cresce em Angra dos Reis – aproximava-se do final, na grande ilha de Kyushu.
Com gestos ensaiados de etiqueta oriental, o protocolo pede que tomemos assento e degustemos as iguarias que são servidas à mesa.
Meus sentidos, porém, continuam embotados. Tentam ainda metabolizar a visita ao inferno de Hiroshima, que ficou para trás. Inferno agora virtual, reproduzido em museu, mas com algumas ruínas originais, das quais a imaginação apreende odor acre a fumaça, ferro fundido, pele derretida. Gritos, berros, queixumes de crianças espavoridas!
Recuando no túnel do tempo, mas também da imaginação, impõe-se a manhã veranil de 6 de agosto de 1945, partida ao meio pelo fio da luz de um sol desconhecido. Desta vez, sol incendiado por Paul Tibbets, piloto do Enola Gay. Onda de pressão, prédios cambaleantes, chafarizes de fogo, e do céu a chuva negra de gotas pegajosas, ácidas – noventa mil mortos instantâneos, um terço da população! No laboratório de Los Álamos, no Novo México dos EUA, Robert Oppenheimer, sua laia de físicos subalternos, militares e agentes secretos erguem as taças em brinde ao “teste da bomba de urânio”.
Entre os corpos fumegantes, andejam farrapos humanos, sobreviventes zumbizados. Imagem do horror que me perseguirá para sempre: estamparia de roupa impressa a ferro, tatuada com fogo, impregnada com urânio sobre a sedosa pele do torso de uma jovem mulher.
Diante do que meus olhos percebem em mero museu, “Hiroshima, meu amor” agora me soa como deboche insensível e insolente de Marguerite Duras.
Sobrevivente desse holocausto, Moritaki – professor de física aposentado e militante pacifista – tenta em vão retomar o fio de nossa conversa interrompida em Hiroshima, sobre o Kyudo, a “arte cavalheiresca do Arqueiro Zen”, fazendo faiscar a mirada do único olho que a bomba atômica lhe legara naquela manhã de 6 de agosto de 1945.
Eu tinha lhe falado da crônica de Eugen Herrigel – o professor que vai ensinar literatura alemã no Japão, e que necessita de longos e dolorosos meses para aprender que, somente a atitude do desapego, do abandono da obsessão em acertar o alvo externo, conduzirá a flecha ao seu alvo predestinado: o coração humano. Arte marcial como alegoria do aprimoramento espiritual, a guerra contra o ego para a pacificação do homem. Disso Moritaki era um entendido.
Porém, minha imaginação desenha samurais caminhando sobre o mar, apontando seus arcos contra as fortalezas voadoras B-29, que se aproximam da costa japonesa…
Resisto, sinto-me irresponsável e deselegante, mas o tema se insinua como guarnição amoral diante da contemplação de Nagasaki devastada que meus sentidos tentam apreender.

O velho professor, de abundante e embranquecida cabeleira, não se contém, tenta agradar. Com desmedida ternura derramada no olho mareado, ele abre um largo sorriso que desnuda o grande número de suas próteses dentárias douradas e, à queima-roupa, adianta-se, convidativo: – Mantenho um pagode Zen com alguns amigos intelectuais e monges, perto de Hiroshima. Quando quiser, venha, que já tem o seu mestre!
Gratificado, dissimulo minha comoção, desviando o olhar do rosto plácido do professor, agora um Buda incorporado, para a vastidão do Mar da China, cuja beleza e paz tentam fazer-me esquecer por que estou em Nagasaki.
Lusitanismos, rastros de Camões… Por esta ilha infiltraram-se cultura e religião chinesas no Japão, mas batera é um nome de embarcação que sobrevive no sotaque nativo como relíquia da passagem por Nagasaki de caravelas portuguesas, no séc. XVI. Por momentos, imagino Camões preso em Goa.
Recolho o olhar do horizonte e focalizo a cidade-baixa a meus pés que, por sua localização, clima tropical, odores, ladeiras e escadarias para a cidade-alta, tece nítidas associações com Salvador da Bahia.
Dou-me conta da exceção aterrorizante: o Baixo de Nagasaki não reflete mais nenhuma correspondência orgânica com as ruas, o casario e o estilo arquitetônico da colina sobre a qual me encontro.
Subitamente, invade-me a percepção de que deveria haver dois olhares sobre Nagasaki: um, de cima para baixo e, outro, em sentido inverso. Lá, a menos de um quilômetro de distância, está o marco zero, o epicentro do que um dia foi a cidade-baixa, cercado, agora, de imenso vazio territorial, espécie de monumento virtual, feito de ruínas e vento, para lembrar sua obliteração em 9 de agosto de 1945.
Sem pedir licença, da memória salta a imagem do Angelus Novus de Walter Benjamin.
O anjo me abraça, decolamos do solo, eu grito de medo, mas, fingindo-se de surdo, o anjo ganha as alturas. O foco se amplia, em grande angular a paisagem se descortina a nossos pés. A História, toda ela, se revela. Colunas de fumaça negra ascendem ao céu, a Terra insinua-se apenas como amontoado de ruínas incandescentes. Então fecho os olhos e sinto-me pousar delicadamente na cadeira ao lado do professor.
Túnel do tempo, madrugada de 9 de agosto de 1945, numa base militar americana em algum lugar do Pacífico.
Uma centúria de homens participa do último briefing: alvos em potencial são examinados nos mapas em seus mínimos detalhes. Em seguida, a missão é “abençoada” com uma prece burocrática do capelão.
Com os instrumentos de navegação apontados ao Mar da China, uma esquadrilha alça vôo às 3h50 da manhã. Voando pelo noroeste, direto para o império do nascente, deslizam por um céu nublado, cujas janelas negras revelam apenas algumas poucas estrelas.
A bordo do Bock’s Car, um dos três bombardeiros B-29 da missão, William L. Laurence, jornalista de ciência do New York Times, olha para Fat Man, a bomba, e anota em sua agenda: “É uma coisa bonita de se olhar, este presente!” (textualmente gadget, no original em inglês).
São palavras de um garoto tolo e orgulhoso do caráter patriótico da missão, jovem como todos os integrantes da esquadra, que nesta madrugada rasga o céu do Pacífico, rumo à missão genocida. Seu comandante, Cap. Frederick C. Bock, tem 27, o bombardeiro e 1o. tenente, Charles Levy, mal completou 26, o piloto e 2o. Tenente, Hugh C. Fergus, tem somente 21 e o navegador e 2o. Tenente, Leonard A. Godfrey, não mais que 24. O comando da esquadra e de toda a missão no ar pertence ao major Charles W. Sweeney, de apenas 25 de idade.
Às 5 da manhã, a luz penetra por algumas janelas de nuvens dissipadas. Laurence lembra que ainda faltam quatro horas para o encontro combinado dos três bombardeiros sob o céu da pequena ilha de Yakoshima, a sudoeste de Kyushu. Ele tira a caneta do bolso do casaco de couro e anota: “Em algum lugar, aos pés das vastas montanhas de brancas nuvens, à minha frente, está o Japão, o país do nosso inimigo. Dentro de quatro horas, uma de suas cidades, que fabrica armas para nos atacar, será varrida do mapa pela arma mais poderosa feita pelo homem. Em um décimo de milésimo de segundo, uma fração de tempo incomensurável por um relógio, uma tempestade descerá dos céus e pulverizará milhares de edifícios e dezenas de milhares de seus habitantes”.
Nas cabines dos aviões, o tempo transcorre com desprendimento e muitas piadas. Perto da hora combinada, o Bock’s Car começa a descrever círculos no céu, à espera da formação com os outros dois aviões. Já juntos, os três sobrevoam a costa, perscrutando seu alvo ainda indefinido. Imersos em uma densa coluna de nuvens, não encontram a saída. “Os ventos do destino parecem ter favorecido certas cidades japonesas, cujos nomes devem permanecer em segredo…”, divaga Laurence sobre o aleatório e poucos minutos depois fulmina: “Sentir alguma pena ou compaixão pelos pobres diabos prestes a morrer? Não, se nos lembrarmos de Pearl Harbor e da morte em Battan!”.
São 12h01 quando as nuvens se abrem em clareira e a esquadra ganha o céu da bonita cidade tropical. Os garotos a bordo dos três B-29 não têm mais dúvidas: “O destino escolheu Nagasaki como o último dos alvos…”. Sintonizam um sinal de rádio combinado, colocam seus óculos de proteção ARC e, quando um deles avisa, “There she goes!”, as entranhas do B-29 “Artiste” dão à luz uma criatura negra, blindada, deslocando-se velozmente sobre o centro de Nagasaki.
Segundos depois, um nunca visto e assustador flash de luz branca corta o céu e cega os homens nos aviões em fuga. Olham para trás, para os lados e miram o monstro crescer, os altímetros acusando primeiro 40 mil, depois 60 mil pés; um cogumelo de 20 quilômetros de altura.
Em terra morrem instantaneamente 74 mil pessoas e, depois de Laurence ganhar o Pulitzer, outros 75 mil nagasakianos entrarão para a História como hibakushas – “sobreviventes” – em cujos corpos, desde 1945, a radiação nuclear escreve a crônica da morte anunciada por queimaduras, leucemia, câncer linfático e demência. Era, pois, o segundo “teste de destrutividade” do Laboratório de Los Álamos, desta vez com o
plutônio.
Olho para o imenso Mar da China e percebo a silhueta do anjo de Benjamin esboçada sobre a linha do horizonte. Enquanto ele se afasta, as ruínas crescem sem cessar…
Já a duzentas milhas do holocausto, olhando para trás, Laurence anotara: “Não há dúvida: sobre a cabeça do monstro decapitado, estão nascendo novas cabeças…”

A figura da hidra, referida por Laurence, soava como espécie de marco referencial, melhor dizendo, como bem talhado trocadilho sobre a História do pós-guerra: História como narrativa descabeçada, pontilhada de gestos obscenos e frases doentias, como a de Sweeney que, anos depois, de volta ao Japão, posando no meio das ruínas de Nagasaki, disse com pavoroso cinismo: But I felt no remorse or guilt that I had bombed the city where I stood!
Não resta a menor dúvida que durante sua invasão da China e da Coréia, o Império Nipônico espalhou o terror, trucidando centenas de milhares de seres humanos. Mas em agosto de 1945, o Japão estava de joelhos, havia capitulado. Coletividades humanas tornadas “alvos de teste” da capacidade destrutiva de artefatos nucleares, as bombas de Hiroshima e Nagasaki foram inequívocos atos de barbárie, programados pela arraia de físicos nucleares de Los Álamos, encabeçados por Robert Oppenheimer, da qual Albert Einstein se afastara por motivos éticos.
Em Hiroshima e Nagasaki renascia a serpente de Juno que depois comandou atrocidades na Coréia e no Vietnã, que torturou prisioneiros e mijou sobre seus corpos em Fallujah, que limpou suas fezes com páginas do Alcorão nas montanhas do Afeganistão, que imolou com bombas de fósforo branco e fuzila todos dias as crianças de Gaza. São cabeças que desde o Congo fazem rolar cabeças No Coração das Trevas – cabeças adestradas pelo espírito do Cel. Kurtz, sedentas de Apocalypse, now!
Agosto de 2025 em Curitiba. Vento gélido açoita minha espinha, mas vinte mil graus centígrados continuam a arder em Nagasaki.
*Cineasta formado pela Academia de Cinema e Televisão (DFFB) e Mestre (MA) em Ciências da Comunicação e Relações Internacionais pela Universidade Livre de Berlim (IfP-FUB), Füllgraf é roteirista e diretor premiado no gênero documentário. Durante mais de vinte anos, atuou como repórter e produtor associado da rede de Rádio e Televisão de Direito Público da Alemanha (ARD) e da Deutsche Welle TV. Como escritor, é autor ee.oo de “A Bomba Pacífica” (Editora Brasiliense 1988).